EIXOS
TEMÁTICOS
DEMOCRACIA
A democracia atravessa hoje uma crise recessiva, ainda que seus princípios sigam como fermento utópico para a construção de uma sociedade ancorada na emancipação, na garantia de direitos, na diversidade e na liberdade. Nos anos 1960, movimentos viçosos por direitos civis e contra o racismo e o colonialismo, liberdade de expressão, justiça social e princípios socialistas delinearam uma conjuntura de direitos expansiva e plural, embora conflitiva. Contudo, o espaço de vigência desses ideais se retraiu significativamente no século XXI, evidenciando uma recessão democrática em curso. Nesse campo, para o urbanismo, persistem como desafios centrais, entre outros: • Contrapor-se a novos agentes globalizados na produção do espaço e à sua intransparência; • Enfrentar a fragilidade, insuficiência e flexibilização dos instrumentos do Estatuto da Cidade e demais normativas voltadas à democratização do espaço urbano; • Conter a proliferação e a opacidade de normas privadas incorporadas pelo setor público; • Revisitar fundamentos onto-epistemológicos do direito urbanístico; • Superar a burocratização e a instrumentalização dos processos participativos; • Tensionar a descentralização da política urbana em face do pacto imobiliário-financeiro-eleitoral; • Problematizar a expansão de ferramentas digitais – ditas “inteligentes” – na gestão e controle das cidades e novas formas de segregação e de exclusão; • Responder aos impasses que redirecionam a produção do espaço mediante a despolitização-fragmentação da vida pública e a disseminação de valores de mercado, que minam o urbanismo como dimensão da res publica. Importa, sobretudo, perguntar se ainda há espaço para a imaginação política, para reconstruir a relação entre democracia e urbanismo a partir da participação cidadã, da valorização de decisões coletivas e do surgimento de rasgos de esperança, permitindo o resgate da democracia como obra comum e como comunidade de vida (Mbembe, 2025). Essa imaginação exige reconhecer potencialidades insurgentes nos territórios, nos movimentos sociais e nas práticas cotidianas de resistência e de criação, reafirmando o dissenso e a corresponsabilidade como caminhos para reconfigurar o urbanismo enquanto campo político vivo, aberto à reinvenção democrática. Afinal, que possibilidades nosso campo de reflexão e ação ainda pode apontar para enfrentar tais desafios?
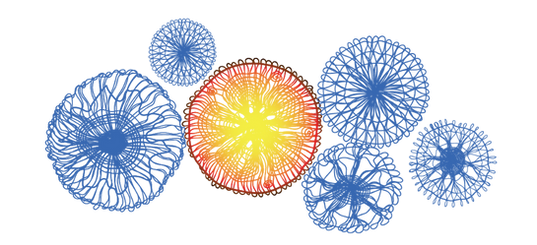
VIOLÊNCIA
O tema da violência será abordado considerando que, atualmente, vivenciamos o recrudescimento do espírito belicoso da barbárie moderna, seja no plano geopolítico mundial, seja no cotidiano das cidades. Sendo a violência um problema público, o que o urbanismo tem a dizer sobre ele, em termos reflexivos, normativos e propositivos? Em meio ao esgotamento dos parâmetros societais de arbitragem de conflitos e dos elementos sociais e políticos que minimamente referenciavam a construção da cidadania no Brasil, a violência figura como temática central e urgente. Mas, mesmo que a violência tenha seu acontecer na cidade, isto não a coloca imediatamente no campo do urbanismo. Convém então problematizá-la através de duas chaves de discussão, estreitamente articuladas: o risco e o crime. O “urbanismo de risco” (Rolnik, 1999) em sua condição de violência, permite identificar, ao longo do tempo, contrastes profundos entre condições urbanas radicalmente distintas convivendo/conflitando, no interior da mesma cidade, configurando situações de maior insegurança para as populações vulnerabilizadas. Ao concentrar qualidades urbanas e impedir que elas sejam partilhadas por todos, os espaços mais bem equipados da cidade são constantemente ameaçados por investidas imobiliárias, por congestionamentos, por assaltos... A desigualdade territorial na cidade brasileira seria portanto a condenação de toda a cidade a um urbanismo de risco e, muito provavelmente, a uma sociabilidade violenta. Por sua vez, a “expansão do mundo do crime” (Feltran, 2014, 2021) remete a uma discriminação política dos espaços periféricos urbanos, seja internamente, enquanto marco discursivo e instância de poder, seja externamente, enquanto criminalização. De onde emergem muitos temas que exigem atenção urgente. Dentre outros: • relacionar violência e urbanismo militarizado e paramilitar como parte de uma estrutura de vigilância na qual a militarização do espaço e gramática bélica podem ser pensadas enquanto doutrina; • interpretar a influência de grandes empresas de tecnologia (big techs) e suas manifestações no urbano a partir de um urbanismo digital de controle de dados; • esquadrinhar os modos como a violência de Estado se manifesta em sua capacidade de moldar o espaço urbano e a vida nas cidades; • problematizar a relação entre urbanismo, racismo e violências de gênero; • tensionar a violência epistêmica e normativa que rege largamente o campo do urbanismo. Espera-se ainda que este eixo traga experiências comunitárias e populares voltadas à promoção da segurança e ao combate à violência, em diálogo com a justiça espacial, bem como acolha reflexões transdisciplinares e interinstitucionais que expressem a centralidade da questão hoje.
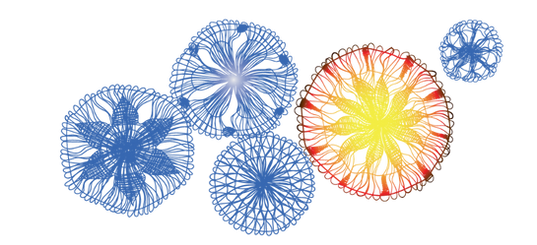
CRISE CLIMÁTICA
As crises permeiam a história do capitalismo. Certamente a crise climática, por seus efeitos deletérios, escala e difícil controle das manifestações como fenômeno ganha, além de importância, alargado espaço na agenda das instituições públicas e na pesquisa acadêmica, exigindo outras formas de relação com a natureza. São inspiradores nesse sentido os “gestos-barreira” de Latour (2020) ou “as transições até o pluriverso” de Escobar (2020). Essa crise pode ainda ser entendida e reconhecida, nas cidades, como aquela do “modelo de desenvolvimento urbano”. Se a questão climática não é novidade, sua agudização no século XXI é evidenciada pelo aquecimento global, pelos desastres ambientais sequenciados e pela elevação do nível do mar. Enchentes, deslizamentos de terras, deslocamentos forçados de populações, desequilíbrios ecológicos passam a ser frequentes, com efeitos de grande magnitude, mediados pelos contextos em que ocorrem. Discutir a crise climática na relação com o urbanismo implica observar as políticas públicas acionadas pois, enquanto o discurso de resiliência ganha força, governos desafetam e alienam áreas verdes, dilapidam bens públicos, flexibilizam os já flexíveis parâmetros urbanísticos e alteram regimes de proteção de áreas de preservação permanente urbanas. Em sentido oposto, manifestam-se em cidades e territórios formas de ativismos políticos, sociais e culturais, ancorados em cooperação e solidariedades, que buscam enfrentar as múltiplas e articuladas crises, nutrindo possibilidades de pensar e viver coletivamente a partir de outras lógicas. A crise climática instabiliza assim as próprias bases do urbanismo e é nas interfaces entre esse campo de conhecimento e de ação e suas variadas dimensões e empirias que se situam as questões que interessam a esse eixo temático: • sistematizar criticamente a noção de crimes ambientais, inclusive o racismo ambiental e como isso vem sendo operado em diferentes escalas territoriais e federativas; • tensionar as políticas de transição energética, de prevenção de desastres e de adaptação climática, seus agentes, narrativas, contradições e conflitos; • problematizar as nomeações e narrativas construídas a respeito de cidades verdes, resilientes, inteligentes e/ou sustentáveis, bem como as empresas certificadoras desses selos e sua articulação com políticas urbanas; • apreender iniciativas que consideram a natureza e seus elementos como agência e como sujeitos de direito em políticas territoriais e urbanas; • identificar formas de enfrentamento da crise climática, especialmente por parte da população negra e indígena, lideranças e moradores de comunidades urbanas que desenvolvem práticas agroecológicas, estratégias de segurança alimentar, defesa da água como bem comum em cidades e territórios; • repertoriar referências discursivas, técnicas e práticas que coloquem em questão a cisão histórica campo-cidade e a reprodução naturalizada de assimetrias.
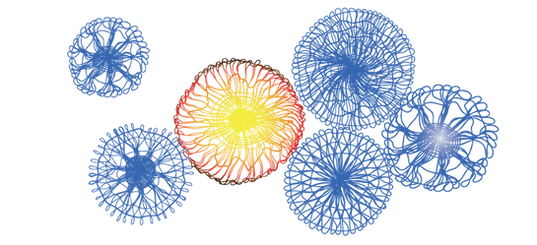
Referências:
ESCOBAR, Arturo. Sentipensar con la tierra: Transiciones: puentes transatlánticos para diseñar redes entre Sures y Nortes, Re-visiones, 2020.
FELTRAN, G. O Valor dos pobres: a aposta no dinheiro como mediação para o conflito social contemporâneo. Caderno CRH, Salvador, v. 27, n. 72, p. 495-512, Set./Dez. 2014
FELTRAN, G. A política como violência. Terceiro Milênio: Revista Crítica de Sociologia e Política Volume 17, número 2, julho a dezembro de 2021, p.228-257
LATOUR, Bruno. Imaginar gestos que barrem o retorno da produção pré-crise. Disponível em: http://casadopovo.org.br/wp-content/uploads/2020/03/bruno-latour.pdf
MBEMBE, Achille. Democracia como comunidade de vida. São Paulo: N-1 Edições, 2025, 23p
MOUFFE, C. En Torno a lo Político. México: Fondo de Cultura Econômica, 2011.
ROLNIK, R. Exclusão territorial e violência. São Paulo em Perspectiva, 13(4) 1999. p. 100-111